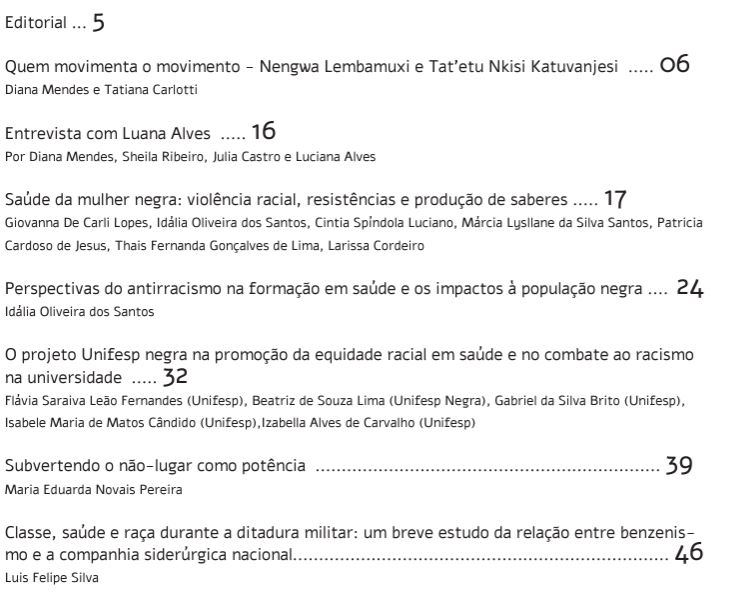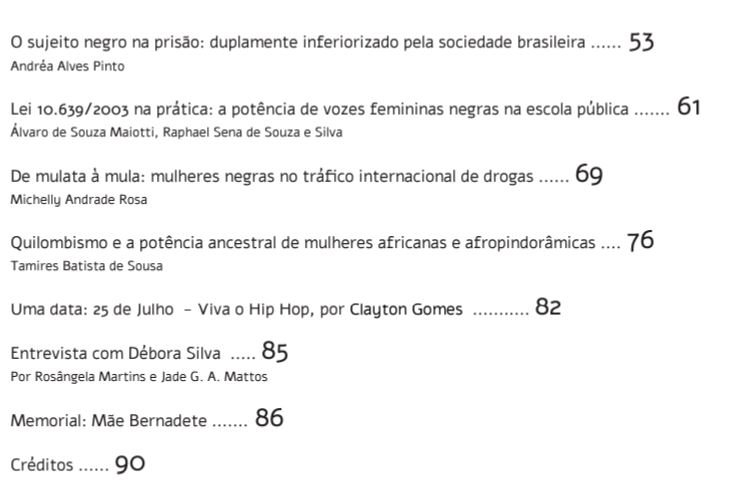ENTREVISTA
com Mam’etu Nengwa Lembamuxi e Tat’etu Nkisi Katuvanjesi
Por Diana Mendes e Tatiana Carlotti
No mês da Consciência Negra, Quem Movimenta o Movimento conversa com duas lideranças espirituais do Candomblé Kongo Angola, Nengwa Nkisi Lembamuxi, matriarca do Terreiro Tumbenci de Maria Neném, sediado em Salvador (BA), e Tat’etu Nkisi Katuvanjesi, coordenador do Instituto Latino Americano de Tradições Afro Bantu (Ilabantu), representante do Centro Internacional de Civilizações Bantu (CICIBA) e membro do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-brasileiros da Unifesp.
Tat’etu (“nosso pai” em língua kimbundu, dos bantu), de nome civil Walmir Damasceno, recebeu recentemente o título Doutor honoris causa pela Unifesp. Em 21 de outubro, ele nos recebeu no terreiro Inzo Tumbansi, que conduz em Itapecerica da Serra (interior de São Paulo), em companhia de Mam’etu (“nossa mãe”) Lembamuxi, de nome civil Geurena Passos Santos. Ao ouvi-los, adentramos as dimensões espirituais, culturais e políticas do Candomblé.

Diana Mendes – Vamos começar pelo processo de iniciação de vocês. Como, onde e quando vocês se entenderam parte do universo do candomblé?
Mam’etu Nengwa Lembamuxi – Meu nome é Geurena Passos Santos, o meu apelido é “Florzinha” e a minha dijina é Lembamuxi. Eu nasci dentro do terreiro Tumbenci, no bairro de Beirú-Tancredo Neves, no Quilombo Cabula, em Salvador, Bahia. Minha mãe consanguínea, Maria José de Oliveira Passos, era a sobrinha da saudosa Maria Genoveva do Bonfim, conhecida por Maria Neném. Quando ela faleceu, minha mãe se casou e foi morar no terreiro para tomar conta das coisas.
Ali, eu nasci e cresci, com o terreiro de portas fechadas para a atividade pública, porque minha mãe era iniciada no candomblé, mas não veio com o cargo de Mam’etu nkisi, veio para servir o nkisi. Ali não tinha carro, não tinha nada, era mata fechada. Eu fui criada dentro dessa mata, com fé e respeitando os inquices do meu pai e dos mais velhos que eu chamava de “tia” e de “tio”.
Então o meu velho, o meu avô Kavungu, que é o meu pai, já tinha me escolhido para essa missão, mas eu não sabia. Fui criada ali, aprendendo as coisas que o santo determinava até onde eu podia saber e as portas fechadas. A minha mãe zelava e cuidava dos inquices da maneira dela, mas ela dizia: “eu não vim para isso. Deus e o espírito da minha tia vai me mostrar uma pessoa para tomar conta e abrir as portas. Não vou morrer sem ver o atabaque tocando”.
Com 19 anos, eu me iniciei. Meu pai biológico, Antônio dos Passos, fez amizade com a minha mãe de santo. E ele me levava sempre para as festas. Numa delas, a minha mãe de santo me chamou para ajudar em um mukondu, que era uma cerimônia fúnebre da mãe de santo dela que tinha falecido. Fizemos essa amizade. Depois o caboclo Pedra Preta tomou à frente. E aos 19 anos, 28 de agosto, eu me recolhi. Então, aos 24 anos, eu recebi o cargo para assumir o terreiro e foi uma surpresa muito grande. A minha mãe sabia, meu pai sabia, minha tia, minha avó, mas eu não sabia.
A partir desse dia, eu assumi o Tumbenci, para zelar pelo meu avô e reabrir as portas do terreiro. Não foi fácil chegar até aqui. Eu tinha oito anos de iniciada quando assumi o terreiro do Tumbansi e estou aqui, servindo o inquice, com respeito, com humildade, com pé no chão e por amor.
Cheguei a 50 anos de iniciada, 42 deles à frente do terreiro, respeitando os mais velhos e os mais novos, e querendo que os mais velhos e os mais novos me respeitem. Tem que levar a sério porque o inquice você não pega. Você sabe que ele existe, não vê de onde ele vem. Sabe que está aqui dizendo “eu sou fulano”, mas você tem de respeitar essa energia, e a gente tem o direito de zelar. “Eu sou a mãe de santo de fulano”. Eu não sou a mãe de santo de ninguém, eu sou a zeladora do inquice de Walmir Damasceno e cabe a ele respeitar isso.
Diana Mendes – Tat’etu, como é essa ligação de filho com o terreiro de Salvador, e como você descobriu e se iniciou na religião?
Tat’etu Nkisi Katuvanjesi – Eu não me descobri, eu fui escolhido. Aos 11 anos de idade, nos porões do casarão da Fazenda Liberdade, zona rural do município de Barra do Rocha, no território médio Rio das Contas, na região cacaueira do Sul da Bahia. Ali eu nasci, acometido de uma doença que a medicina convencional chamava de sequela de poliomielite. Eu não tinha controle dos membros inferiores, das pernas, e tinha o corpo cheio de feridas.
Então, meu pai com uma tia, irmã da minha mãe biológica, me apresentou a uma mãe de santo que atendia no sul da Bahia, no eixo Ilhéus-Itabuna. Ela determinou que eu fosse levado ao terreiro dela, em Salvador. Era a saudosa Marcelina Plácida da Conceição, Nengwa Kizungirá, do nkisi Nzazi, mera similitude de Xangô, filha de santo da saudosa Maria Genoveva do Bonfim, minha avó, Maria Neném.
Nesse terreiro, no bairro da Boca do Rio, Terreiro Santa Luzia Tumbenci Filho, eu fiquei enclausurado e passei pelo processo de iniciação. A partir dela e da incorporação, de ser “tomado por espírito” digamos assim, é que tive noção da própria vida, a cura das enfermidades e das feridas, e o controle da coordenação motora. Ainda tenho uma descoordenação, ficou a sequela; mas, eu só tive mesmo saúde e vida após a minha iniciação.
Fui iniciado para o nkisi Kavungu, como diz na linguagem acadêmica, o inquice tutelar, o santo da minha cabeça. Ele que estava me guiando e determinando. Eu fui escolhido para ser o que eu sou, para a continuidade da própria vida. A razão de eu ser do Candomblé, de eu ser de inquice, foi esse momento.
A iniciação é o próprio processo de reafricanização, que começa a partir daí. Não é você pegar em África e comparar o que tem aqui, ou fazer uma coisa diferente. Isso não é reafricanização. Reafricanização é a iniciação. A iniciação se traduz na reafricanização. Tanto minha mãe como eu, e todos que passaram por aqui, passaram por esse processo. A reafricanização que se dá na própria vida. É a existência da vida e a resistência que é conduzir o terreiro Inzo Tumbansi.
O vínculo desse terreiro se traduz no respeito. Ouvir o seu mais velho, ela é a minha mais velha. Embora eu tenha a idade de santo, devido ao cargo que estou de tomar decisões, mas você não pode decidir sem ouvir o seu mais velho ou a sua mais velha.
Eu conduzo esse terreiro aqui, o Inzo Tumbansi, mas quando a minha mãe está aqui, a autoridade maior é dela. O vínculo se traduz no respeito de filho para mãe. É uma coisa familiar. O candomblé também nos ensina isso. Ele só pode ter razão de ser se caminhar na esteira do respeito. Sem respeito, não existe nada.
O vínculo se dá baseado no respeito a essa hierarquia. O primeiro aspecto é você se iniciar, é quando você morre para o mundo profano e nasce para o mundo santo, quando perde o nome colonial e é registrado com nome africano-brasileiro, a chamada dijina, um nome iniciático. O segundo aspecto é a sua posição social no terreiro. Eu não sabia que seria escolhido para ser Tat’etu, nasci como Katuvanjesi ou como Iaô como diz a outra nação.
Você não escolhe na vida de santo, é escolhido. Alguém tem que dizer que você é. Uma autoridade superior dentro da hierarquia disse à minha mãe, quando a sentou na cadeira, que ela era Nengwa nkisi Lembamuxi. Alguém me disse também, quando me sentou na cadeira, que eu era Tat’etu nkisi Katuvanjesi. Aquele ou aquele que disse quis dizer “eu sou porque nós somos”. Ou você é porque nós somos”.
Eu não posso me sentar e dizer que eu sou Tat’etu nkisi Katuvanjesi. A minha mais velha, na sua soberania, tem que me dizer. É na autoridade dela que vai ser dito se eu sou ou não.
Diana Mendes – O que é essa reafricanização a partir do candomblé, de tradição bantu?
Tat’etu Nkisi Katuvanjesi – Esse processo de reafricanização se dá com o grande ancestral que nós temos, que se chama Maria Genoveva do Bonfim, a Maria Neném. O nosso espelho, a nossa força, a nossa guia, o encantamento, o enfrentamento é Maria Neném. Não existe outra coisa, é ela quem nos reafricaniza. A nossa reafricanização se dá nela. Quando ela é invocada, chamada, convidada. Quando pensamos na espiritualidade, nós pensamos no espírito de Maria Genoveva do Bonfim, Nengwa Tuenda dia Nzambi.
É passado aquele equívoco de que a reafricanização é atravessar o Oceano Atlântico. A reafricanização é aqui. É neste espaço. É lá no terreiro Tumbansi que Maria Neném rege e onde ela é pensada. Ela não é chamada, ela está em tudo. Ela é pensada por nós como a grande ancestral, como ser vivo espiritualmente falando. O ancestral protetor e condutor porque quem nos conduziu foi ela. Quem conduziu minha mãe aqui, foi ela. Quem me conduziu aqui, foi ela.
Se eu tenho um problema na minha terra de ordem política, e sou obrigado a migrar para outra terra, ela é quem me diz “saia daqui, embora contra a sua vontade, você tem que sair para dar continuidade em outro lugar”. Quando eu tenho dificuldades em ter um espaço próprio de culto a essa ancestralidade, a essa espiritualidade, de pensar no nome dela, é ela que determinou. “O seu caminho vai ser dessa forma”.
No passado, eu não entendia isso. Veio com o tempo porque tudo no candomblé é com tempo. Tudo com tempo é tudo ao seu tempo. No candomblé, nada é automático. Não existe pegar um livro e dizer “vou seguir por aqui”. Não existe cartilha que determine a presença de uma divindade. Não existe cartilha que determine a presença de Maria Genoveva do Bonfim. Não existe.
Diana Mendes – Como a senhora definiria a família do Tumbansi?
Mam’etu Nengwa Lembamuxi – A família de santo é uma raiz. É uma árvore grossa, onde a raiz se espalha pelo solo debaixo da terra feito a jaqueira, a mangueira. A raiz do Tumbansi é muito longa, eu costumo dizer que é infinita. Foi muito suor, muito choro de minha mãe, muito sacrifício, muita necessidade, não tenho vergonha de falar, mas está lá hoje, um pedacinho de chão desapropriado pelo governo no passado. Ali, eu zelo com muito amor, carinho, humildade, respeito. Amor.
Eu deixei a minha juventude e estou deixando a minha velhice no terreiro Tumbansi. E digo aos meus filhos, meus filhos de santos e minhas irmãs, quando eu partir desse mundo, não quero que me deixem numa sala escura, numa funerária. Quero estar ali dentro [do terreiro]. Foi ali que eu nasci, dali não vou sair. Esse é o amor que tenho ao santo. É em nome dele, de Maria Genoveva do Bonfim, de Maria Neném, que eu estou aqui.
Diana Mendes – Qual a importância do terreiro na resistência contra a intolerância religiosa que busca retirar as pessoas do espaço amoroso e da reafricanização?
Tat’etu Nkisi Katuvanjesi – A atuação se dá na revalorização das pessoas. Quando você recebe uma pessoa que vem ao seu reencontro, em busca de uma palavra amiga, de fé, de otimismo, de esperança, você está combatendo todas as formas de violência. O terreiro é um espaço marcado pelo reencontro de pessoas independente da forma do corpo que adentra esse espaço. Por ser um espaço de ressignificação da vida, de acolhimento, de proteção, para além de ser um espaço de benção, o terreiro tem esse propósito.
O simbolismo de Maria Neném se traduz nesse combate. O apelido carinhoso Maria Neném é porque ela acolhia mulheres desassistidas, excluídas pela sociedade, vítimas de toda forma de violência e de racismo. E como eram mulheres sem condições de nutrir de sustento os seus filhos, elas passavam a viver com ela, e o apelido Maria Neném é porque ela registrava todas as crianças como filhas e filhos. Tinha vários filhos de criação, vários de adoção. Uma mulher que já pensava política de combate ao feminicídio, porque muitas eram mulheres que sofriam violência doméstica.
Isso tem continuidade, não da mesma forma, mas pelo acolhimento. É muito comum a prática de políticas de combate a essas violências pelo simples aconselhamento e o acolhimento. As pessoas não estão acostumadas a ter uma convivência social e no terreiro, elas passam a ter essa convivência de forma fraterna, saudável, familiar. O terreiro termina sendo um espaço de convivência familiar, e a líder do terreiro cumpre um papel importantíssimo de educação. Uma mulher como Mam’etu Nengwa Lembamuxi tem saberes e práticas que a Academia desconhece.
Diana Mendes – Vocês conseguem se pensar em termos de uma identidade negra?
Tat’etu Nkisi Katuvanjesi – Nós já nascemos pretos e isso vai tendo uma visibilidade a partir da entrada no processo de reafricanização, que é a iniciação. O santo lhe dá uma identidade e essa identidade é preta. O reencontro com os nossos ancestrais, com a nossa espiritualidade já diz que somos pretos, independente da cor. O fato de sermos de candomblé, de sermos de culto a inquice indica que nós nascemos pretos.
Extraído do BOLETIM OVIR
CAAF – Novembro 2023, (p.6-15)
ISSN 2965-2804
Clique e confira a íntegra da quarta edição
abaixo o sumário:

Diana Mendes é coordenadora do Ovir/CAAF. Tatiana Carlotti é reporter do Fórum 21. Fotos: Léo Rodrigues. Vídeo (em breve): Edu Abad.